26.2.10
Números que dão que pensar...
A Ética é uma questão de emoções, de razão, ou ambas?
 O Emotivismo é uma forma de subjectivismo moral que defende a ideia de que os nossos juízos morais exprimem apenas emoções e sentimentos não tendo por isso, valor de verdade. As nossas preferências valorativas não exprimem verdades ou falsidades são apenas exclamações. Foi defendida por filósofos como Charles Stevenson ou Bertrand Russel.
O Emotivismo é uma forma de subjectivismo moral que defende a ideia de que os nossos juízos morais exprimem apenas emoções e sentimentos não tendo por isso, valor de verdade. As nossas preferências valorativas não exprimem verdades ou falsidades são apenas exclamações. Foi defendida por filósofos como Charles Stevenson ou Bertrand Russel.22.2.10
O que é um argumento moral? Como se avalia?
 Usamos frequentemente juízos morais em diferentes situações do dia-a-dia, quando aprovamos ou não a conduta de um amigo, o comportamento de um político ou mesmo de um personagem de ficção. Na maioria dos casos, os juízos morais aplicam normas ou princípios morais a situações específicas. Para justificarmos racionalmente os nossos juízos, argumentamos, mas os argumentos morais têm características específicas, consideremos o seguinte exemplo:
Usamos frequentemente juízos morais em diferentes situações do dia-a-dia, quando aprovamos ou não a conduta de um amigo, o comportamento de um político ou mesmo de um personagem de ficção. Na maioria dos casos, os juízos morais aplicam normas ou princípios morais a situações específicas. Para justificarmos racionalmente os nossos juízos, argumentamos, mas os argumentos morais têm características específicas, consideremos o seguinte exemplo:21.2.10
O valor de uma acção depende do número de pessoas que a pratica? (Conclusão)
 (…) É frequente associar "Toda a gente faz o mesmo" à ideia de que é impossível mudar o que quer que seja. A forma mais comum que este argumento assume é a seguinte: "Sempre foi, é e será assim!" O que se pretende dizer com isto, naturalmente, é que como algo sempre ocorreu de dada maneira no passado continuará a ocorrer dessa maneira daqui em diante, façam as pessoas o que fizerem. Este argumento indutivo deve ser persuasivo, uma vez que é tão frequentemente evocado. No entanto, a sua conclusão é falsa.
(…) É frequente associar "Toda a gente faz o mesmo" à ideia de que é impossível mudar o que quer que seja. A forma mais comum que este argumento assume é a seguinte: "Sempre foi, é e será assim!" O que se pretende dizer com isto, naturalmente, é que como algo sempre ocorreu de dada maneira no passado continuará a ocorrer dessa maneira daqui em diante, façam as pessoas o que fizerem. Este argumento indutivo deve ser persuasivo, uma vez que é tão frequentemente evocado. No entanto, a sua conclusão é falsa.Se "Sempre foi, é e será assim!" fosse verdadeiro, o Boavista nunca teria ganho o campeonato. Este é um exemplo simples que mostra inequivocamente a falsidade da conclusão do "argumento imobilista". Ele mostra claramente que pelo facto de algo ter sido sempre de determinada maneira no passado, não se segue que continuará a ser no futuro. (…)
O valor de uma acção depende do número de pessoas que a pratica?
 (...) Tal como o facto de toda a gente fazer o mesmo não torna uma acção correcta, também o facto de ninguém, ou quase, praticar uma acção a torna incorrecta. Suponhamos que na comunidade esquimó onde toda a gente tem por tradição colocar os idosos na rua durante as noites de Inverno, alguém decide confortá-los, acarinhá-los e ajudá-los a passar o melhor possível os seus últimos dias de vida, à semelhança do que se faz na nossa sociedade. O facto de esta acção ser apenas praticada por um membro da comunidade torna-a errada? A resposta, claro, é não. Uma forma de conduta rara não é necessariamente uma forma de conduta errada. Muitas das práticas hoje comuns na sociedade ocidental começaram por ser defendidas e praticadas por um número muito restrito dos seus membros e só com o tempo ganharam aceitação geral. A conclusão a tirar é óbvia: a popularidade (ou a sua ausência) não é suficiente para decidir se uma acção é ou não correcta. A acção ou prática pode ser boa ou má, correcta ou incorrecta, mas não certamente por toda a gente proceder ― ou não ― dessa maneira. (…)"
(...) Tal como o facto de toda a gente fazer o mesmo não torna uma acção correcta, também o facto de ninguém, ou quase, praticar uma acção a torna incorrecta. Suponhamos que na comunidade esquimó onde toda a gente tem por tradição colocar os idosos na rua durante as noites de Inverno, alguém decide confortá-los, acarinhá-los e ajudá-los a passar o melhor possível os seus últimos dias de vida, à semelhança do que se faz na nossa sociedade. O facto de esta acção ser apenas praticada por um membro da comunidade torna-a errada? A resposta, claro, é não. Uma forma de conduta rara não é necessariamente uma forma de conduta errada. Muitas das práticas hoje comuns na sociedade ocidental começaram por ser defendidas e praticadas por um número muito restrito dos seus membros e só com o tempo ganharam aceitação geral. A conclusão a tirar é óbvia: a popularidade (ou a sua ausência) não é suficiente para decidir se uma acção é ou não correcta. A acção ou prática pode ser boa ou má, correcta ou incorrecta, mas não certamente por toda a gente proceder ― ou não ― dessa maneira. (…)"20.2.10
É correcto fazer o que "toda a gente faz"?
 "Antigamente os esquimós colocavam os seus anciãos na rua durante a noite e no Inverno quando estavam às portas da morte. Se um de nós, ao observar esta prática, perguntasse "Acha isto correcto?" e o esquimó respondesse "Toda a gente faz o mesmo", consideraríamos essa resposta satisfatória? Talvez a primeira coisa que sentíssemos fosse uma certa estranheza derivada de nos parecer que a resposta não respondia à pergunta. A pergunta não era acerca do número de pessoas que pratica a acção, mas da sua correcção. A resposta é, portanto, irrelevante para a questão.
"Antigamente os esquimós colocavam os seus anciãos na rua durante a noite e no Inverno quando estavam às portas da morte. Se um de nós, ao observar esta prática, perguntasse "Acha isto correcto?" e o esquimó respondesse "Toda a gente faz o mesmo", consideraríamos essa resposta satisfatória? Talvez a primeira coisa que sentíssemos fosse uma certa estranheza derivada de nos parecer que a resposta não respondia à pergunta. A pergunta não era acerca do número de pessoas que pratica a acção, mas da sua correcção. A resposta é, portanto, irrelevante para a questão.Continuar a ler, aqui
19.2.10
Os juízos morais são relativos?
 Waris Dire é uma modelo somali que ficou conhecida por ser a primeira figura pública a admitir ter sido excisada e a denunciar esta prática cultural que continua, hoje, a mutilar e a matar milhares de raparigas. O seu livro "Flor do Deserto" é a obra mais conhecida sobre o tema. Em 2002, abandonou a passerelle, dedicando-se à fundação que criou para combater esta prática: a http://www.waris-dirie-foundation.com/en/
Waris Dire é uma modelo somali que ficou conhecida por ser a primeira figura pública a admitir ter sido excisada e a denunciar esta prática cultural que continua, hoje, a mutilar e a matar milhares de raparigas. O seu livro "Flor do Deserto" é a obra mais conhecida sobre o tema. Em 2002, abandonou a passerelle, dedicando-se à fundação que criou para combater esta prática: a http://www.waris-dirie-foundation.com/en/ frequentemente com outras raparigas. (...)
frequentemente com outras raparigas. (...)Pouco me lembro da minha irmã Haleno. Eu devia ter três anos quando subitamente ela desapareceu; não compreendi o que lhe aconteceu. Mais tarde soube que a cigana a tinha excisado quando 'o momento especial' chegara, e Haleno sangrara até morrer. (...)
18.2.10
"...Ciência sem ética pode ser uma tragédia"
17.2.10
O que é a Ética?
A metaética responde ao problema da justificação dos juízos morais procurando saber se em ética há juízos verdadeiros ou falsos. Se sim, saber se essa verdade é relativa (gostos, sentimentos, padrões morais aprovados em cada cultura) ou se há verdades morais objectivas no sentido em que são aceitáveis por todos.


15.2.10
"Ciência e filosofia através da música"
Fontes: http://www.astopt.org/ , http://www.publico.pt/, http://www.youtube.com/
Veja aqui o projecto original, e Aqui com tradução em português.
O problema dos critérios valorativos - será a ética relativa?
 Paul Gaugin, Donde vimos? O que somos? Para onde vamos? (1897)
Paul Gaugin, Donde vimos? O que somos? Para onde vamos? (1897) 14.2.10
O que é a realidade?
6.2.10
O problema do compatibilismo
 René Magritte, la promesse
René Magritte, la promesse2.2.10
Existirão factos morais?
"Um juízo moral - ou qualquer outro juízo de valor - tem de ser apoiado em boas razões. Se alguém disser que uma determinada acção seria errada, pode-se perguntar por que razão seria errada e, se não houver uma resposta satisfatória, pode-se rejeitar esse conselho por ser infundado. Neste aspecto, os juízos morais são diferentes de meras expressões de preferência pessoal. Se alguém diz «eu gosto de café», não necessita de ter uma razão para isso; poderá estar a declarar o seu gosto pessoal e nada mais. Mas os juízos morais requerem o apoio de razões, sendo, na ausência dessa razões, meramente arbitrários.
31.1.10
O determinismo moderado
 Quem defende o determinismo moderado ou compatibilismo, não aceita que a verdade da crença no determinismo implique necessariamente a falsidade da crença no livre-arbítrio. Pensa que o problema está mal formulado. Assim, defende que as proposições:
Quem defende o determinismo moderado ou compatibilismo, não aceita que a verdade da crença no determinismo implique necessariamente a falsidade da crença no livre-arbítrio. Pensa que o problema está mal formulado. Assim, defende que as proposições:A perspectiva libertista sobre a acção
 O libertismo é a corrente que defende, de modo mais radical, o livre-arbítrio e a responsabilidade do ser humano. Considera que a vontade nem sempre está causalmente determinada (determinismo) nem é aleatória (indeterminismo). Sugere que o agente tem o poder de interferir no curso normal das coisas pela sua capacidade racional e deliberativa. Admite dois tipos de causalidade, a natural que encontramos nos fenómenos físicos e no ser humano já que pertencemos também ao mundo natural como qualquer outro ser da Natureza e uma categoria especial de causalidade do agente (livre), segundo a qual os agentes iniciam sequências de acontecimentos, sem que esse desencadear seja causalmente determinado. O argumento principal é o seguinte:
O libertismo é a corrente que defende, de modo mais radical, o livre-arbítrio e a responsabilidade do ser humano. Considera que a vontade nem sempre está causalmente determinada (determinismo) nem é aleatória (indeterminismo). Sugere que o agente tem o poder de interferir no curso normal das coisas pela sua capacidade racional e deliberativa. Admite dois tipos de causalidade, a natural que encontramos nos fenómenos físicos e no ser humano já que pertencemos também ao mundo natural como qualquer outro ser da Natureza e uma categoria especial de causalidade do agente (livre), segundo a qual os agentes iniciam sequências de acontecimentos, sem que esse desencadear seja causalmente determinado. O argumento principal é o seguinte: 30.1.10
Um "argumento" contra o determinismo radical
 «Quando alguém se esforçar por te negar que nós, seres humanos, somos livres, aconselho-te a que lhe apliques a prova do filósofo romano. Na Antiguidade, um filósofo romano estava a discutir com um amigo que negava a liberdade humana e garantia que, para todos os homens, não há maneira de evitar fazer o que fazem. O filósofo pegou no seu bastão e começou a dar-lhe pauladas com toda a força que tinha, 'já chega, não batas mais!', dizia-lhe o outro. E o filósofo, sem deixar de surrá-lo, continuou a argumentar: 'Não dizes que não sou livre e que quando faço uma coisa não posso evitar fazê-la? Pois então não gastes saliva a pedir-me que pare: sou automático'. Até que o amigo reconheceu que o filósofo podia livremente deixar de bater-lhe, e só então o filósofo deu descanso ao seu bastão. A prova é boa, mas só deves administrá-la em casos extremos e sempre com amigos que não saibam artes marciais...»
«Quando alguém se esforçar por te negar que nós, seres humanos, somos livres, aconselho-te a que lhe apliques a prova do filósofo romano. Na Antiguidade, um filósofo romano estava a discutir com um amigo que negava a liberdade humana e garantia que, para todos os homens, não há maneira de evitar fazer o que fazem. O filósofo pegou no seu bastão e começou a dar-lhe pauladas com toda a força que tinha, 'já chega, não batas mais!', dizia-lhe o outro. E o filósofo, sem deixar de surrá-lo, continuou a argumentar: 'Não dizes que não sou livre e que quando faço uma coisa não posso evitar fazê-la? Pois então não gastes saliva a pedir-me que pare: sou automático'. Até que o amigo reconheceu que o filósofo podia livremente deixar de bater-lhe, e só então o filósofo deu descanso ao seu bastão. A prova é boa, mas só deves administrá-la em casos extremos e sempre com amigos que não saibam artes marciais...»Determinismo e indeterminismo na acção
26.1.10
"Ética a Nicómano"
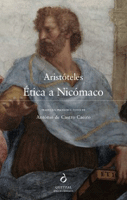 "Viver Bem", texto introdutório, com tradução de Desidério Murcho sobre a ética de Aristóteles retirada do livro Aristotle, de Cristopher Shields. Pode ser lido na Crítica.
"Viver Bem", texto introdutório, com tradução de Desidério Murcho sobre a ética de Aristóteles retirada do livro Aristotle, de Cristopher Shields. Pode ser lido na Crítica. 24.1.10
A REALIDADE, poderemos conhecê-la?
Vídeo gentilmente enviado pela colega Soledade.
23.1.10
Cidadania activa?
 Viver em democracia atribui-nos muitos direitos, mas também inúmeras responsabilidades. É um sistema político que possibilita a liberdade e a igualdade e foi por isso que se travaram tantas batalhas para a conquistar. Para que a democracia seja realmente possível tem de existir um equilíbrio entre a vida pública e a vida privada dos cidadãos. Esta diz respeito apenas a cada um de nós, enquanto aquela representa o nosso papel na sociedade, é tão ou mais importante que a vida privada, uma vez que interfere com a vida de todos.
Viver em democracia atribui-nos muitos direitos, mas também inúmeras responsabilidades. É um sistema político que possibilita a liberdade e a igualdade e foi por isso que se travaram tantas batalhas para a conquistar. Para que a democracia seja realmente possível tem de existir um equilíbrio entre a vida pública e a vida privada dos cidadãos. Esta diz respeito apenas a cada um de nós, enquanto aquela representa o nosso papel na sociedade, é tão ou mais importante que a vida privada, uma vez que interfere com a vida de todos.É comum que em países ocidentais como o nosso, em que o bem-estar está ao alcance de quase todos, a vida pública passe para segundo plano em relação à vida privada, uma vez que vai sendo assegurada pelos governantes, e apenas quando algo ameaça perturbar esse bem-estar particular é que exercemos o nosso direito a intervir na vida pública. Isto acontece porque temos tendência a acomodar-nos e a pensar que quem está no poder é que tem de assegurar o nosso bem-estar.
Cada um de nós tem um papel importante a desempenhar. Aristóteles defendia mesmo que a vida pública era superior à privada, cada cidadão para se tornar plenamente homem, tinha o dever de participar na vida pública porque era dessa forma que servia o bem e a virtude; sendo necessário um uso responsável da retórica e da dialéctica enquanto capacidades de persuasão ao serviço do bem comum. A política era uma extensão da ética.
Para Desidério Murcho, há mudanças na forma como entendemos a vida pública e a privada. A forma como aquela é encarada pelos cidadãos está a tornar-se assustadora, uma vez que na generalidade dos casos apenas é vista como um meio para atingir o bem-estar na vida privada. Para ele, só nos lembramos e valorizamos os ideais democráticos quando o bem-estar particular está em causa, o que demonstra o nosso carácter individualista e o economicismo das nossas sociedades.
21.1.10
Será a beleza um critério de verdade?
Clicar em View subtitles, para ver com tradução em português.
Tradução de Carlos Portela
19.1.10
Sei que não sei?!
 Hoje na aula de Filosofia, um aluno fez a seguinte pergunta ao seu professor:
Hoje na aula de Filosofia, um aluno fez a seguinte pergunta ao seu professor:Se te queres matar, porque não te queres matar?
• Será que a vida humana é digna de ser vivida? (problema de natureza ontológica e metafísica)
• Será eticamente aceitável praticar o suicídio? (problema de natureza ética)
O suicídio enquanto problema ético deve ser reequacionado, com o propósito de se encontrar uma justificação para a reprovação ou aprovação do comportamento de um indivíduo que atenta contra a sua própria vida.
Da tradição filosófica chegou-nos vários argumentos que se tornaram clássicos. Sublinho apenas dois pela influência que tiveram no que respeita a este problema na sua dimensão ética.
• Argumento 1 – Argumento da não propriedade. Este argumento foi apresentado por Platão (Fédon, 62b), e reelaborado, posteriormente, pelos filósofos de inspiração cristã. Segundo este argumento, que designei de argumento da não propriedade, o suicídio é inaceitável, porque não temos propriedade sobre a nossa própria vida. Assumindo-se que a vida humana é pertença dos deuses, não podemos assenhorearmo-nos de algo que não dos pertence por natureza.
Moore distingue propriedades não naturais (de carácter ético) das propriedades naturais (susceptíveis de serem descritas empiricamente). Com esta distinção, e aplicando-a ao suicídio, a vida humana é uma propriedade não natural, pois não somos senhores da vida, como somos de uma mão ou de um braço. Assim, segundo este argumento, não temos qualquer direito sobre a nossa vida, pelo que não podemos atentar contra ela.
• Argumento 2 – Argumento da humanidade. Este argumento aparece descrito na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant, deduzido da segunda formulação do Imperativo Categórico:
«Se, para escapar a uma situação penosa, se destrói a si mesmo, serve-se de uma pessoa como de um simples meio para conservar até ao fim da vida uma situação suportável. Mas o homem não é uma coisa; não é portanto objecto que possa ser utilizado simplesmente como um meio, mas pelo contrário deve ser considerado em todas as suas acções como fim em si mesmo. Portanto, não posso dispor do homem na minha pessoa para o mutilar, degradar ou matar.»
Segundo o argumento da humanidade, é eticamente inaceitável a prática do suicídio, na medida em que este é um atentado contra a humanidade. A vida humana deve ser encarada como valor intrínseco (como tendo valor em si mesma) e não instrumental. Para Kant, um acto encontra-se justificado moralmente se for um fim em si mesmo, independemente dos propósitos que se pretendem alcançar com ele. Então, atentar contra a vida com o propósito de encontrar a posteriori alguma tranquilidade, é inaceitável, do ponto de vista moral.
Concordo com o argumento da humanidade em detrimento do argumento da não propriedade. Tentar justificar a inaceitabilidade do suicídio consiste partir dos seguintes pressupostos:
1. Todo o indivíduo que oriente a sua acção com o objectivo de subtrair uma vida humana, age erradamente.
2. O indivíduo que se suicida está a subtrair uma vida humana.
3. Logo, o indivíduo que se suicida está a agir erradamente.
Poder-se-ia defender a inaceitabilidade do suicídio a partir do princípio de que a vida é sagrada, porém, emitir este tipo de juízo de valor não está longe de enfrentar objecções, sobretudo as que se prendem com a dificuldade em definir o que é sagrado e o que determinada substância deve conter para ser considerada sagrada.
Sou igualmente incapaz de considerar que um indivíduo que se suicida manifesta um exemplo de força de carácter e de coragem, como alguns defensores da sua aceitabilidade poderão alegar. A coragem é uma virtude moral, assim, um ser virtuoso, do ponto de vista moral, com carácter, dificilmente aceitará o suicídio nos juízos morais que formula, na medida em que, aliando a sua força moral ao ensejo pela racionalidade, acrescenta que o suicídio não é objecto de ponderação nem de deliberação, e que quem comete tal acto fá-lo movido por interesses demasiado subjectivos, irracionais e infundados. Tome-se o exemplo do filósofo Gilles Deleuze, ter-se-á suicidado por um conceito, uma ideia filosófica, ou pela incapacidade de suportar o sofrimento físico que a doença acarretava? Camus afirma que: "Nunca vi ninguém morrer pelo argumento ontológico. (...) Em contrapartida, vejo que muitas pessoas morrem por considerarem que a vida não merece ser vivida."
O problema agudiza-se quando se desdobra noutros, tais como a eutanásia ou o suicídio assistido. Será que ao condenar o suicídio, serei forçado a condenar a eutanásia?
Uma pessoa consciente de si, que se encontra condicionado por uma vida vegetativa, sentindo-se frustrado com a sua situação, apenas se depara com dois cursos alternativos de acção: ou viver o dia de amanhã como o de ontem, ou não esperar pelo dia de amanhã. Por seu turno, o indivíduo que decide suicidar-se, encontra-se perante vários cursos alternativos de acção, de maneira que a sua decisão reflecte uma entre tantas possibilidades de ter agido. Assim, considero menos aceitável o suicídio do que a eutanásia.
É mais fácil reflectir e encontrar, por muito difícil que seja em algumas circunstâncias, uma razão para viver, do que fazê-lo num cenário em que se está condicionado fisicamente, sem esperança de o alterar.
Considerar inaceitável o suicídio pode fazer-nos colidir com uma consequência bem provável. Imagine-se a seguinte situação:
O indivíduo X, um espião israelita no Líbano, foi descoberto pelos seus inimigos. Após ter sido capturado e feito prisioneiro, foi pressionado para revelar segredos sobre a polícia secreta israelita. Munido de apetrechos para a sobrevivência de um espião, durante a noite, tomou a substância que guardava religiosamente no bolso, que o fez sacrificar a vida pela manutenção dos segredos de Estado.
Terá sido o suicídio deste indivíduo moralmente aceitável? Esta pode ser uma consequência da aceitabilidade do suicídio. Ora, parece-me que o indivíduo agiu em conformidade com o princípio de evitar prejuízos a terceiros, sacrificando a sua vida pela sua sociedade. Avaliando os benefícios que este suicídio acarretou, para os israelitas são indiscutíveis, mas não para os libaneses. E para a humanidade, terá sido este suicídio aceitável? Não querendo entrar em pormenores de política internacional, a aceitabilidade deste acto apenas se poderia defender se trouxesse benefícios para a humanidade, sacrificando a sua vida pelos outros, pelo bem universal. Pois, se não pensarmos assim, será que podemos condenar os actos dos terroristas? Provavelmente não.
Imagine-se, agora, outra situação, esta bem real e avaliada pelo olhar de todos, em 11/09/2001. Poderemos aceitar o suicídio dos indivíduos que se encontravam nas Torres Gémeas no momento da colisão dos aviões? Para a avaliação desta situação, os argumentos da não propriedade e da humanidade não se adequam. Numa situação-limite como esta, não podemos condenar o acto, pois não foi ponderado, antes movido por impulsos que o tornam pouco racional, e assim, os seus factores tornam-se indiferentes a uma avaliação moral justa.

John Millais, Ophelia (1890)
Álvaro de Campos, num estilo bem perturbador, adianta:
«Se te queres matar, porque não te queres matar?/Ah, aproveita! que eu, que tanto amo a morte e a vida, / Se ousasse matar-me, também me mataria.../Ah, se ousares, ousa!»
Estes versos, ainda que preludiem a defesa do suicídio no decurso do poema, denotam a ousadia que é necessário ter para atentar contra a nossa própria vida. E o que é a ousadia, senão o temor proveniente do risco da transgressão, do trespassar o pesado véu das convenções e normas morais, sabendo-se que por detrás do pesado véu há um princípio claro e evidente, embora difícil de destrinçar, que nos impede de praticarmos o suicídio?
16.1.10
O que nos faz dizer que algo é belo?
Fascinante viagem pela História da Arte através do rosto feminino. O vídeo tem por título "Women in Art" e foi realizado por Philip Scott Johnson.
Vídeo gentilmente enviado pela colega Teresa Agostinho
11.1.10
Pitágoras e a música
O problema do conhecimento
 Em filmes como: Matrix, 13.º Andar ou Desafio Total, é explorada a possibilidade de vivermos uma realidade virtual induzida por um super-computador. As pessoas que estão na Matrix, por exemplo, são levadas a pensar que vivem num mundo físico com edifícios, condições atmosféricas e automóveis, mas esse mundo existe apenas na sua mente. (…)
Em filmes como: Matrix, 13.º Andar ou Desafio Total, é explorada a possibilidade de vivermos uma realidade virtual induzida por um super-computador. As pessoas que estão na Matrix, por exemplo, são levadas a pensar que vivem num mundo físico com edifícios, condições atmosféricas e automóveis, mas esse mundo existe apenas na sua mente. (…)10.1.10
Liberdade?
 Vou contar-te um caso dramático. Já ouviste falar das térmitas, essas formigas brancas que, em África, constroem formigueiros impressionantes, com vários metros de altura e duros como pedra? Uma vez que o corpo das térmitas é mole, por não ter a couraça de quitina que protege outros insectos, o formigueiro serve-lhes de carapaça colectiva contra certas formigas inimigas, mais bem armadas do que elas. Mas por vezes um dos formigueiros é derrubado, por causa de uma cheia ou de um elefante (os elefantes, que havemos nós de fazer, gostam de coçar os flancos nas termiteiras). A seguir, as térmitas-operário começam a trabalhar para reconstruir a fortaleza afectada, e fazem-no com toda a pressa. Entretanto, já as grandes formigas inimigas se lançam ao assalto. As térmitas-soldado saem em defesa da sua tribo e tentam deter as inimigas. Como nem no tamanho nem no armamento podem competir com elas, penduram-se nas assaltantes tentando travar o mais possível o seu avanço, enquanto as ferozes mandíbulas invasoras as vão despedaçando. As operárias trabalham com toda a velocidade e esforçam-se por fechar de novo a termiteira derrubada... mas fecham-na deixando de fora as pobres e heróicas térmitas-soldado, que sacrificam as suas vidas pela segurança das restantes formigas. Não merecerão estas formigas-soldado pelo menos uma medalha? Não será justo dizer que são valentes?
Vou contar-te um caso dramático. Já ouviste falar das térmitas, essas formigas brancas que, em África, constroem formigueiros impressionantes, com vários metros de altura e duros como pedra? Uma vez que o corpo das térmitas é mole, por não ter a couraça de quitina que protege outros insectos, o formigueiro serve-lhes de carapaça colectiva contra certas formigas inimigas, mais bem armadas do que elas. Mas por vezes um dos formigueiros é derrubado, por causa de uma cheia ou de um elefante (os elefantes, que havemos nós de fazer, gostam de coçar os flancos nas termiteiras). A seguir, as térmitas-operário começam a trabalhar para reconstruir a fortaleza afectada, e fazem-no com toda a pressa. Entretanto, já as grandes formigas inimigas se lançam ao assalto. As térmitas-soldado saem em defesa da sua tribo e tentam deter as inimigas. Como nem no tamanho nem no armamento podem competir com elas, penduram-se nas assaltantes tentando travar o mais possível o seu avanço, enquanto as ferozes mandíbulas invasoras as vão despedaçando. As operárias trabalham com toda a velocidade e esforçam-se por fechar de novo a termiteira derrubada... mas fecham-na deixando de fora as pobres e heróicas térmitas-soldado, que sacrificam as suas vidas pela segurança das restantes formigas. Não merecerão estas formigas-soldado pelo menos uma medalha? Não será justo dizer que são valentes?9.1.10
Quem cala consente?
 Usamos muitas vezes este provérbio, sem pensarmos muito nele. Faz parte da sabedoria popular. Mas não resiste à nossa reflexão. É usado frequentemente como desculpa para muitos abusos. Por exemplo, no caso em que se considera que explorar a boa vontade de alguém que não se manifesta contra essa exploração, é moralmente permissível. Se essa pessoa não se manifestar, então, implicitamente, dá o seu consentimento.
Usamos muitas vezes este provérbio, sem pensarmos muito nele. Faz parte da sabedoria popular. Mas não resiste à nossa reflexão. É usado frequentemente como desculpa para muitos abusos. Por exemplo, no caso em que se considera que explorar a boa vontade de alguém que não se manifesta contra essa exploração, é moralmente permissível. Se essa pessoa não se manifestar, então, implicitamente, dá o seu consentimento.O argumento tem forma válida, mas não é sólido, porque uma das premissas é falsa.
A primeira premissa é falsa porque alguém que esteja a ser explorado pode não se manifestar por várias razões: por medo, pode ser severamente castigado pela pessoa que a explora; por incapacidade de se manifestar, caso das crianças pequenas, dos doentes, ou dos diminuídos mentalmente; pode ainda não se manifestar por razões sentimentais, caso dos pais em relação aos filhos, dos avós em relação aos netos, dos amigos entre si. Mas, a razão principal é que é sempre moralmente errado explorar a boa vontade dos outros, porque estamos a usar os outros como meros meios para o nosso bem-estar.
“Quem cala, não consente nem desmente, apenas não se manifesta".




